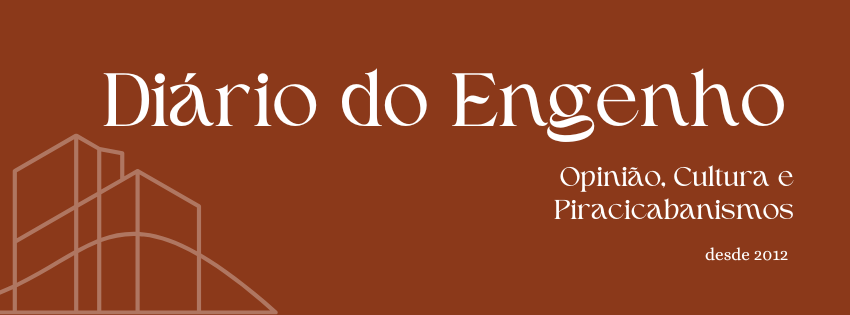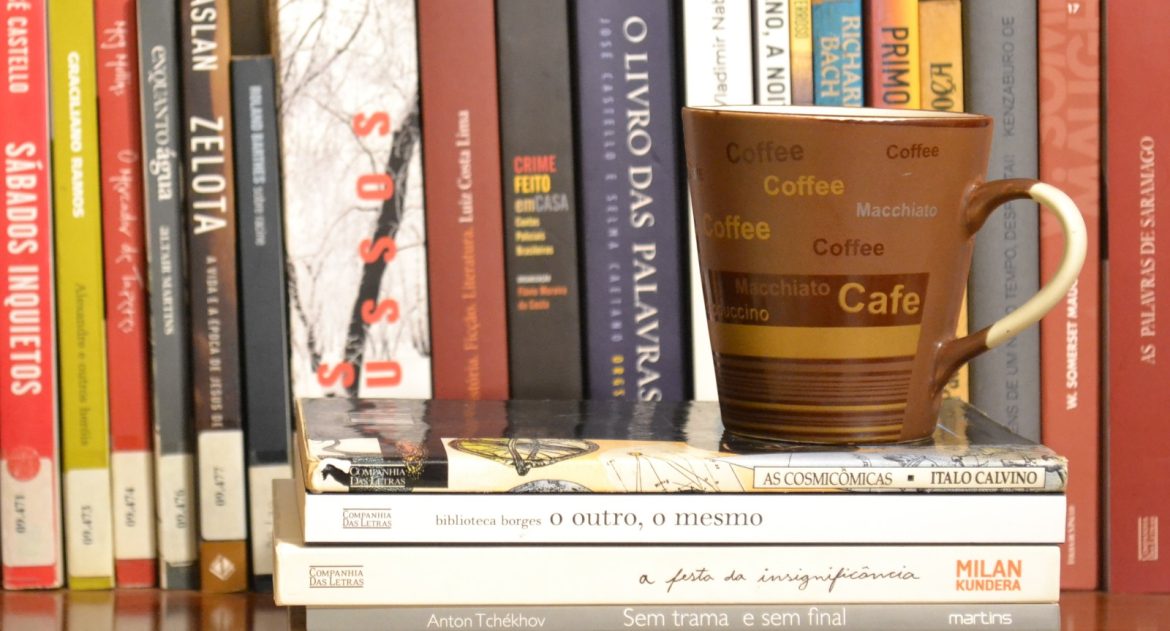Há alguns anos, ouvia-se muito falar que estávamos entrando na “era do conhecimento” – a partir da observação de que a tecnologia avançava muito rapidamente, exigindo que os indivíduos estudassem mais para se manterem empregáveis em atividades econômicas densas em novas tecnologias. Com a internet, suas bases de dados e redes tornando-se um aspecto novo da vida quotidiana, percebeu-se que estávamos na “era da informação”, abundante, ao alcance de um clique, barata. E agora o que se diz é que estamos mergulhando na “era da inteligência artificial”. De era em era, vamos errando…
Na “era do conhecimento”, a superespecialização nos apartou da sabedoria, o talento que permite ver a parte sem perder de vista o todo. Na “era da informação”, tropeçamos num amontoado de dados que dificulta caminhar na direção da compreensão, mormente do que não pode ser quantificável. E agora corremos o risco de tomar por inteligência o que não passa de técnicas rápidas de junção e concatenação dirigida de informações dispersas no mundo virtual, ali depositadas pela verdadeira inteligência (a humana).
Está fora de dúvida que em termos de informação, conhecimento e inteligência (esta, enquanto habilidade para produzir, armazenar, recuperar e utilizar informações, daí produzindo novos elementos para o avanço do conhecimento e para a melhoria dos fazeres), as tecnologias computacionais representam um novo salto para a Humanidade. Mas, como em tudo na História, efeitos negativos interagem com os positivos, o resultado do processo ficando na dependência de como os indivíduos humanos farão uso daquilo que descobrem ou inventam.
Assim, na “era do conhecimento”, corre paralela uma era da estupidificação coletiva – tem-se a impressão de que o processo civilizatório corre risco de retroceder; na “era da informação”, a deturpação dos fatos e a distorção das notícias correm soltas, e rapidamente, como nunca antes; na “era da inteligência artificial”, a natural dá crescentes mostras de encolhimento.
Em meio a este turbilhão de mudanças tecnológicas que impactam profundamente a capacidade humana de aprendizado, compreensão e esclarecimento sobre o mundo (natural e cultural), sobre os indivíduos e suas relações interpessoais e socias/políticas, parece que aquilo que conduziu ao ponto admirável a que chegou-se – a escrita e a leitura – está perdendo impulso.
Não é por mero saudosismo (de velhos adeptos da leitura) ou exclusivamente por interesse pecuniário (de produtores e vendedores de livros) que agora há tanta gente (como eu, sempre que posso) alertando para a importância de se ler, realizando campanhas para incentivar o interesse pela leitura, salientando os benefícios do contato quotidiano com as páginas escritas – enquanto editoras estão desativando suas máquinas e livrarias vão fechando suas portas.
Não é por odiosa exibição intelectual que a seguir comento o efeito benéfico de três leituras recentes: o que desejo é levar quem me lê, nestas linhas, a perceber o quanto ler alavanca a capacidade de pensar e de dialogar; e levar a compreender que a leitura faz isso mais do que qualquer outra atividade.
Vivemos um momento conflituoso, com muitas guerras e conflitos armados mundo afora. Alguns desses confrontos letais têm caráter e alcance regional, enquanto outros (como a guerra entre Rússia e Ucrânia e entre Israel e o povo palestino, assim como o desastre humanitário no Iêmem, entre outros) inserem-se no processo de transição inconcluso de um padrão de hegemonia econômico-estratégica global (capitaneada pelos Estados Unidos) para outro padrão (em que a China desponta como potencial nova liderança). Diante deste quadro, pode-se ficar tomando posição para lá e para cá, lançando mão de informações e argumentos que são abundantes no noticiário e especialmente nas numerosas (e nem sempre confiáveis) fontes da internet. Pode-se também ficar repetindo palavras de ordem pacifistas, que são importantes, mas que historicamente têm eficácia duvidosa. Respeitadas as minhas limitações – tenho muito o que fazer, além de me informar e de pensar sobre os conflitos armados que acontecem mundo afora – decidi esclarecer-me sobre este tópico. Por força do hábito, recorri aos livros. Lembrei-me de três deles, lidos no passado, constantes de minha biblioteca pessoal: Confronto de fundamentalismos (de Tariq Ali), Ascensão e Queda das Grandes Potências (de Paul Kennedy) e O Processo Civilizatório (de Darcy Ribeiro). Sobre cada um escrevi um comentário, publicados na minha coluna Café com Pires, no Diário do Engenho: leia aqui, aqui e aqui.
O que eu pretendo ressaltar é que após essas leituras eu domino um repertório, um acervo, um conjunto organizado de percepções sobre um problema candente de nossos tempos que me coloca muito à frente de mim mesmo antes dessas leituras. Ainda que eu não dialogue com ninguém a respeito do que li, por mais que tudo isso pareça inútil nas mãos (na mente, melhor dizendo) de alguém que não é parte do processo decisório sobre o assunto em pauta, apesar de os assuntos abordados não fazerem parte do que interessa diretamente à minha atuação profissional, apesar da aparente inutilidade do empreendimento de ler tantas páginas relativamente complexas, o esclarecimento que adquiri melhora o mundo: ele passa a contar com um opinador nocivo a menos. O que é muito pouco, mas é melhor que nada. O que, além disso, pode vir a ser um pouco (sendo um pouco mais que muito pouco) caso isto que estou escrevendo – para motivar a leitura – atinja, de algum modo positivo, alguém, qualquer que seja esta pessoa.
Depois de ler as três obras mencionadas, eu sei de coisas sobre guerras, potências/impérios, civilização, sociedade/economia/política, cultura etc. que não me seria possível vir a saber por experiência. Tento demonstrar isso, palidamente, nos comentários que fiz a respeito de cada uma das obras (basta lê-los nos links indicados para ver como isso acontece). Por isso afirmo, com absoluta segurança: há muito no mundo e na vida que jamais poderemos saber por experiência – a vida é curta e se desenvolve num tempo específico, num lugar determinado, em companhias ao sabor do acaso. Como saber, por experiência, o que aconteceu na Grécia no momento de “invenção” da democracia? Quem pode experimentar os sofrimentos das batalhas ou compreender o que se passa com quem delas sai vitorioso ou derrotado, já que, felizmente, a maioria de nós jamais será um combatente? De que experiência pessoal pode uma pessoa obter o que é necessário saber sobre cálculo diferencial ou o princípio da demanda efetiva de Keynes? Os livros condensam, em páginas, vivências e percepções que custaram, aos que os escreveram, muitíssimo mais do que o tempo que levamos para lê-los, o que quer dizer que eles nos economizam tempo no esforço de aprender, entender, compreender e assimilar aspectos da vida. Ler nunca é tempo perdido.
Cada livro lido é uma lente nova, com diferentes focos e alcances, para ver melhor o mundo com que temos que lidar quotidianamente. Em companhia deles, nossos olhos não são apenas os dois abaixo da testa e acima do nariz. É triste notar, então, que há olhos/lentes abandonados, esquecidos, perdidos por aí (gratuitos, em bibliotecas, por exemplo), enquanto míopes e cegos se multiplicam em todos os lugares, não raro conquistando a condição de condutores.
Polarizado, empobrecido, truncado, o diálogo (se é que merece este nome o que conversamos hoje em dia) tem perdido muito sua qualidade emancipatória e agregativa, em todo o mundo, em grande medida pela regressão de uma habilidade que levou séculos para ser adquirida por uma fração da humanidade que, embora crescente desde o advento dos tipos móveis para impressão, nunca chegou a ser o que poderia, e isso porque a maioria de nós pouco lê – muitos porque são impedidos pela dedicação à luta pela sobrevivência, mas tantos por não terem, mesmo, interesse genuíno pelo esclarecimento que os livros proporcionam. De modo que quem não lê por impossibilidade, é digno de pena; mas quem deixa de fazê-lo, podendo, merece pelo menos um “puxão de orelha”.
Ler é ato solitário, mas não implica solidão, já que é tanto uma interação com o outro que não está presente (o autor), como um preparativo para a melhor convivência futura com todos os demais à nossa volta. Ler é um recolhimento pessoal no mundo das palavras (escritas) que convém à volta ao mundo das palavras (orais), na medida em que aquele que lê tende a falar menos, por cuidado e zelo em relação ao próprio conhecimento/esclarecimento e em relação aos outros.
Eu gostaria de terminar mostrando a visão geral sobre as guerras atuais e seu impacto no mundo que está por vir (mania de professor), proporcionada pelas três leituras aqui mencionadas – assunto que daria até mesmo uma palestra de umas duas horas – mas não conseguirei. Fica portanto, apenas o que penso/desejo que seja um relato que convida cada um a se aventurar no mundo da leitura, não para ganhar alguma coisa pequena ou grande (uma vantagem competitiva na empregabilidade, por exemplo), mas para não perder outra coisa – imensa, apesar de nem sempre percebida – a condição de ser daquele que o é refletindo a respeito das implicações de ser o que é.
Valdemir Pires é economista e escritor.