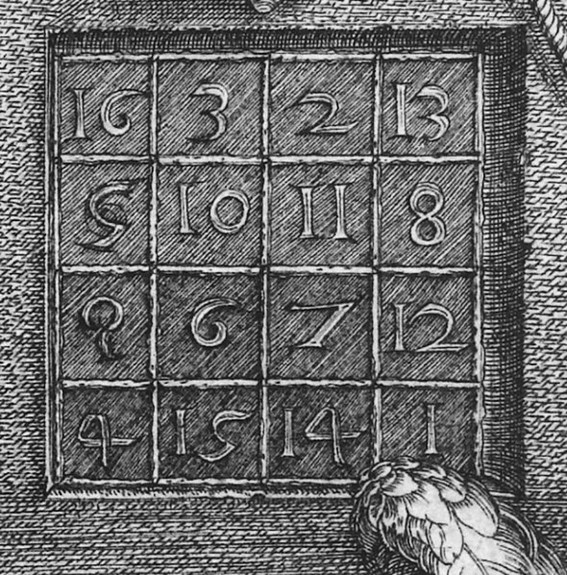Ao ator Roma Sarcedo.
(Um homem entra em cena)
Tenho fome. Uma fome danada que não passa. Ainda ontem comi uma peça inteira de Ibsen, sozinho no quarto – para não ter que dividir nada com ninguém. Passei a noite deitado, sem poder dormir, digerindo a peça quase sem digerir, letra por letra, como uma cobra esticada ao sol. Achei que minha fome tivesse sumido. Aquele enjoo na boca, aquela saliva espessa subindo e descendo. Fiquei sem andar por dois dias. Nem pelo centro da cidade eu arrisquei a caminhar – até para não correr o risco de ver e comer alguma casa de bonecas. Depois, a fome foi voltando, foi voltando. E a cobra virou um perdigueiro, um lobo, um urso. Era como se eu não comece há décadas. Fiquei desesperado. Saí à caça. Qualquer coisa servia. Fome! Era fome o que eu tinha. E o que se faz diante da fome? Dei por mim e a minha boca já espumava sangue de palavras frescas: “finger foods” que arranquei à força de um dicionário de inglês antes do almoço. Hummm… (Lambe os dedos).
Tenho fome! Tenho uma fome danada que não passa. Tenho fome até depois que como. Tenho fome até quando estou comendo. Às vezes, roubo o pão das igrejas – de qualquer uma, tanto faz. E como! Como sem sacrifícios. Aliás, sacrifícios me lembram igrejas e ceias – e ceias, claro, me dão fome. Comi Freud e sua ceia totêmica. Como as entregas, os dízimos, a imolação, a tentativa de contato místico com deuses e deusas. Sim. Eu como as igrejas e suas tradições, seus dogmas, seus fiéis e sua moralidade falsa. Ai, fome abençoada que não passa! Devo ter trazido alguma coisa comigo, não pode ser, (procura algo nos bolsos), nunca saio de casa sem nada – apesar de a rua ser sempre um prato cheio. Escutou? (Põe as mãos na barriga). É fome! Talvez eu ache alguma igreja aberta. Ou não. Não. Talvez seja melhor comer aqui mesmo pela praça. Comida de rua! Hmmm… (Fecha os olhos com desejo, tentando farejar no ar algum sabor). Co-mi-da de rua!
Amo comer na rua. Assalto sem medo seus carrinhos de cachorros-quentes de histórias, de gentes suando pelo centro da cidade feito salsichas. Começo sempre comendo causos no mercadão. A glosa mole do povo. Iguaria! Devoro pastéis de conversas jogadas foras, de cotovelos que se chocam lado a lado no balcão. Engulo tudo. As vozes que saem da televisão ligada ao fundo da pastelaria rolam no meu estomago – glop, glop, glop. Um gole de garapa para assentar as coisas. Depois, um café. O homem ao lado lamenta que caiu num golpe e perdeu a poupança. Uma criança berra. Alguém pede uns trocados para comer – o que eu nunca nego, porque quero sempre matar as fomes. E como. Todos. Tudo. E saio com fome. (Leva as mãos à cabeça em sinal de aflição). Maldita fome que não cede, isso sim. Maldita fome que não venço! (Volta a procurar algo no bolso). Não é possível que eu não tenha trazido nada. (Se espanta). E quem quer o nada? Eu quero é o prato dado por clemência aos que não comem há séculos. Arre, fome!
Quero as histórias dos que esperam, as confissões feitas nos divãs dos analistas, os pecados revelados dentro dos confessionários. Quero o lamento triste de quem perdeu sem ter apostado, a mentira feita ilusão de vitória, as juras de amor desacontecidas. Quero os ismos, os neologismos, os cataclismos verbais em convulsão. Quero a mistura de quem erra o que diz, a reticência de quem se corrige, de quem gagueja em receio. Quero a revelação do desejo, o chiste, a violência do verbo. Quero a overdose das bibliotecas, a gula das livrarias, a perversão da língua. Não me venham com jejuns de vida, com regimes de sensações, com a dieta dos costumes. Quero comer o que é dito com o calor dos olhos, o espanto de quem hesita. Arre, fome! O que eu tenho é fome de fome. (Procura algo novamente algo nos bolsos).
Não é possível que eu não tenha trazido nada… (sai).
Alexandre Bragion é editor deste Diário do Engenho.