A poesia morreu domingo, no Rio, outra vez. Dizem que foi para sempre – o que duvido. A poesia não aprende. Ela insiste em viver morrendo por aí, nas esquinas, dentro dos bares, nas ruas, descalça nas calçadas. Depois, quando menos se espera, a poesia volta – viva – leve e solta. Para depois ser morta, de novo, como sempre.
Hoje, ainda não achei a poesia revivida. Isso porque, como eu disse, a poesia morreu no domingo. Morreu, não. Foi morta. Assassinada. A poesia foi assassinada no Rio. Vinha distraída, conduzindo o carro da família, vidros abertos para ver o sol lá fora. O rádio ligado no jogo do Vasco contra o Bangu, o bate-papo solto, com a mulher ao lado – no banco do passageiro. Ela, a mulher, também plena poesia, olhava para a sua poesia junto de si: o marido, guiando o carro, a achando também linda. No banco de trás, o sogro, uma outra mulher e uma criança de 7 anos, a parte mais importante da poesia desse dia. Todos calmos. Todos plenos. Todos poesia-em-poesia do cotidiano carioca de cartões-postais.
De repente, estampidos. Não um ou dois – mas oitenta. Oitenta! De repente aquele caminhão camuflado do exército atravancando a rua, atravancando a via, atravancando a vida. Não houve tempo para poesia. Fuzis sem gramática e sem alma fuzilaram o carro com marido, mulheres, sogro e a criança de sete anos – em plena luz da tarde, de uma tarde quente e de sol do Rio de Janeiro. De repente, aos berros, já do lado de fora do carro, a mulher desconheceu a poesia rápida que fora sua vida até esse dia. No carro, o marido fuzilado já nem mais agonizava em sangue. Estava morto. Morreu como e com a poesia dos desvalidos, dos injustiçados. Morreu, não. Foi morto. Injustamente morto. Inocentemente morto. Assassinado por quem devia protegê-lo. No domingo, no Rio de Janeiro, oitenta tiros de fuzis de soldados do estado assassinaram outra vez a poesia.
Como é difícil escrever sem ela. Como é difícil viver sem ela. A gente bem que tenta – porque a vida, agora, está desse jeito. Juntamos uma letra aqui, outra ali. Tentamos respirar. Tentamos ver melhor. Tentamos ouvir de novo. Mas, qual o quê? A poesia se foi. A poesia morreu. Morreu, não! Foi morta. A poesia foi cruelmente assassinada – diz-se que por engano, o que duvido. A poesia morreu, e morre, na mira de seres brutos e incompetentes que sempre e sempre a matam. E agora, ao fechar os olhos ao mundo em busca da poesia, só me vem à boca e à mente o gosto e o rosto, em pele fria, de mais um inocente que morreu – morreu não, foi morto! – pela máquina estatal de matar gente e poesia.
Há um mês, a poesia já havia sido morta outra vez – antes de, de novo, ter renascido para morrer de novo. Foi também no Rio. A poesia, nessa ocasião, havia sido morta dentro de um supermercado. Um segurança sentou-se em cima dela e de um rapaz que, supostamente, havia tentado furtar algum trocado. Alguns passantes até que esboçaram uma reclamação. Disseram ao segurança que, se ele não saísse de cima do rapaz, o rapaz e a poesia morreriam. Mas também não foi de jeito. Ambos, aquela poesia e o rapaz, eram negros – e negros são sempre mal vistos por quem não conhece poesia, são sempre tidos como perigosos, como bandidos por quem, da poesia, não entende os seus sentidos. E os dois morreram. O rapaz, que tinha problemas mentais e não havia roubado nada, e a poesia – triste e desavisada. Morta, sim. Outra vez e mais uma, assassinada. Mas, quem liga para a poesia de pele negra, encarnada? Que poesia, que nada!
Em São Paulo, também no domingo, enquanto era assassinada no Rio, a poesia também quase morria numa passeata na Paulista. Três homens brancos, de meia idade e se achando os donos da verdade e da lei, deram uma gravata na poesia que, livre e democrata, protestava pelo que lhe parecia justo. Agora, parece que virou moda dar gravatas na poesia. Na Bahia, outro dia, dois policiais também deram uma gravata na poesia, na frente de uma filha, dentro de um banco da Caixa Econômica Federal, porque a poesia – outra poesia negra – reclamava demais do atendimento.
Em Guarulhos, também na semana passada, uma poesia estudantil foi empurrada e quase morta dentro de sua escola, por um guarda que colocou no peito da jovem poesia um cano de espingarda calibre 12 – somente por que a poesia reclamava o direito de entrar na escola, de período noturno, apesar de alguns minutos atrasada.
Em Minas, um professor de História e sua poesia, ainda também nessa semana, foram presos dentro da sala de aula – na frente de seus alunos – sem oferecerem resistência, sem nada. Calada, a poesia levou de novo uma gravata e foi arrastada para fora da sala – enquanto os alunos, apavorados que corajosos, filmavam a malbaratada atuação militarizada. O crime dessa poesia? Ter questionado, fora da escola, uma abordagem policial em um aluno de poesia que se locomovia em cima de uma bicicleta torta e enferrujada.
Hoje, ainda não me encontrei de novo com a poesia – peço, por isso, desculpas pelo texto apático. Talvez ela ainda não tenha retornado viva depois de seu último atentado. Talvez ela esteja escondida da vida, mimetizada em qualquer mais que longínqua estrada – com medo de, de novo, ser fuzilada, metralhada ou engravatada. Porque, nunca é demais repetir: no domingo, sete de abril de 2019, oitenta tiros de fuzis da máquina de executar poesias do estado mataram a poesia na frente das crianças.
Hoje, não sei da poesia. Sei apenas, dentro de mim, que ela um dia voltará – como sempre – viva, sã, revigorada.
Porque a poesia sabe – como eu e como os que a amam – que o mal que sobre nós hoje recai suporta tudo em qualquer via – menos o que é da vida a sua essência, menos o que é da beleza a transparência, menos o que é pura e tão somente poesia.
Alexandre Bragion é editor do Diário do Engenho

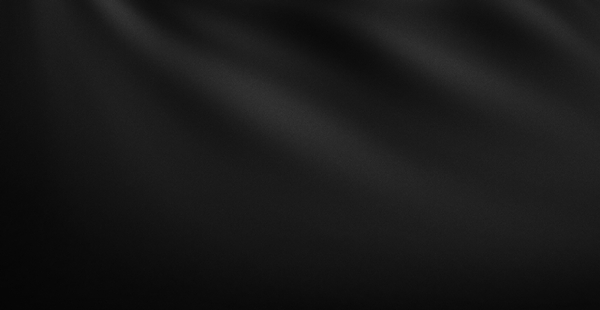

A poesia continua em textos como este que vem dar voz à dor que silenciamos diante de tanta barbárie. As vozes que resistem haverão de continuar ecoando. Grata pelo texto.
Obrigado pela leitura, Paz! Um forte abraço! E resgatemos a poesia. Ela é tudo o que os opressores mais odeiam.
Ale Bragion é pura poesia …
Poesia em tempos de dor. Forte abraço e obrigado!
Parabéns,Alexandre Bragion!
Grato! Forte abraço!
Apesar da dureza dos dias atuais, resistiremos e lutaremos para que a poesia não morra nem seja matada – a tiros, gravatadas, esmagamentos, amarras, silêncios forçados -, mas que seja vivida em toda sua plenitude – “livre, leve e solta”, democrática!